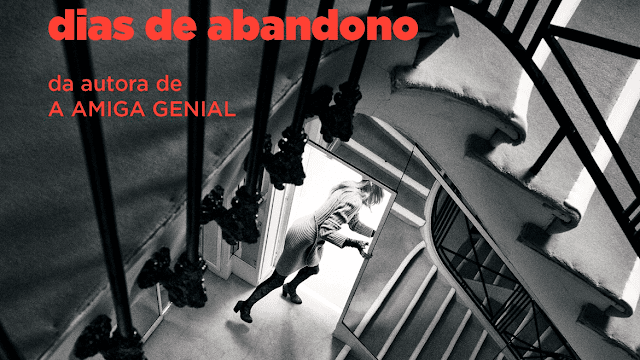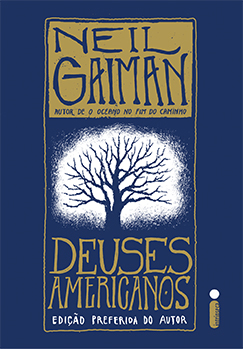A linguagem nunca viveu
momentos tão difíceis. Para se expressar, o indivíduo de hoje precisa ser o
mais minucioso possível, pois qualquer deslize na comunicação pode levá-lo ao
terreno minado da não interpretação, ou pior, da distorção da palavra. Texto,
contexto, discurso, enunciação, são instâncias indissociáveis, mas suas categorias
perderam seu sentido inaugural nestes tempos sombrios. Fatia significativa
deste fenômeno se deve a difusão das redes sociais e o acesso praticamente
irrestrito da população, em sua maioria iletrada no campo da leitura - o que
resvala na compreensão de textos - na internet. Por essa inadequação
linguística, recentemente o hit “Que tiro foi esse?”, da cantora Jojo Todynho,
caiu em desgraça após ser considerado como apologia à violência reinante no
Brasil, mesmo a funkeira esclarecendo o significado pretentido da música.
Entretanto, é preciso aproveitar esse equívoco para uma finalidade mais nobre.
De fato, o primeiro sentido dado a “Que tiro foi esse?” parece mais apropriado
agora que o governo Temer permitiu que a intervenção militar entrasse mais uma
vez em cena na história do país.
Após ser aprovada pela
Câmara de Deputados, toda sorte de comentários, análises, debates, discussões,
textos e mais textos, em suas múltiplas manifestações, foram, e serão,
elaborados para atribuir juízo de valor à Intervenção Militar. Mais que justo,
diante da forma como essa manobra inegavelmente política e inconstitucional tem
sido feita. Em sua maioria, o que se versa é sobre a ilegitiminidade dada a
operação, ao fracasso da segurança pública no Rio de Janeiro dentre sucessivos
governos e os interesses escusos, mas óbvios, do presidente mais odioso da
história brasileira. Então, quando “as palavras incomodam o suficiente”, como
disse Martha Medeiros em uma de suas crônicas, elas despertam a inflexão
inesperada daquilo que se almejava. Menos de um dia após ser facultado o
direito ao Exército de ter plenos poderes na “seguridade” das favelas cariocas
(que este espaço fique bem claro), o próprio Exército se manifestou nas redes,
afirmando que Intervenção Federal não é o mesmo que Intervenção Militar. A
explicação se tornou ainda mais ambígua do que a sua mera conceituação,
sobretudo quando se leva em conta o histórico de truculência militar no Rio e
em todo o país.
Voltemos brevemente ao
hit da Jojo Todynho. Os problematizadores de plantão enxergaram na letra uma
incitação da violência, destacando um trecho da música para chegar a tal
conclusão. O Exército da Intervenção Militar incorre pelo mesmo erro. Não se podem
analisar textos falados, escritos e imagéticos, desatrelado do contexto a que
estes estão intimamente vinculados. As experiências das produções textuais,
sejam elas quais foram, são oriundas de uma época, cumulativo de sentimentos e
experimentações, visões de mundo empíricas e factuais, das quais não podem ser
desconsideradas. Sem esse entendimento qualquer linguagem soará imprecisa,
desconectada da realidade, de modo a perder sua total relevância e funcionalidade.
Foi o que ocorreu com “Que tiro foi esse?” e é o que, sordidamente, o Exército
Brasileiro está se propondo a fazer. Enquanto o tiro de Jojo Todynho foi de
alegria, pluma e purpurina, o da Intervenção Militar será digno dos bombardeios
do Oriente Médio. Ou seja, tentar substituir a abruta participação das Forças
Armadas por outras palavras não surtirá o mesmo efeito enquanto o contexto de
atuação for o mesmo.
Essa tentativa
fraudulenta de eufemizar a linguagem para evitar maiores alardes talvez
funcionasse em momentos mais remotos da história nacional, quando o acesso à
informação era mais limitado. Porém, no boom da tecnologia, apesar da carência
no quesito interpretação de texto, ainda há muitas pessoas capazes de discernir
táticas arbitrárias, principalmente contra os mais desfavorecidos. E não é
clichê redizer o quanto são os favelados, pobres, negros, jovens, o público
alvo dessa operação. As estatísticas antes disso já comprovam porque tais vivem
na mira dos criminalizadores do poder. Também não é irrelevante reiterar a
ineficiência do poder público para gerir um projeto de Segurança Pública
comprometido com o bem de todos, e não apenas os mais abastados. Uma segurança repaginada,
desde a contratação, passando pela política de apreensão de suspeitos, aparato
policial, condições dignas de trabalho, menor morosidade nos trâmites legais,
resvalando diretamente na reconfiguração das cadeias. Tudo isso é sabido e
possível de ser concretizado, mas o mais rentável é manter a política
antidrogas, incentivar o porte de armas e criminalizar as minorias.
Há um artigo muito pertinente
sobre essa abissal realidade brasileira da Jornalista e Escritora, Eliane Brum,
chamado “Também Somos o Chumbo das Balas”. Brum mostra-se chocada com a falta
de empatia com os moradores mortos no morro da Maré, no Rio, em detrimento dos
da Avenida Paulista nos protestos de 13 de junho de 2013; enfatiza a
brutalidade como os policiais incidem sobre a população, não distinguindo
bandidos de possíveis criminosos; alerta para a utilização indistinta de balas
de borracha nas avenidas brasileiras e de fuzis nas favelas; ainda sobre a
polícia, o texto fala sobre como a militarização desses servidores só se
insurgem contra os moradores daquelas áreas periféricas e o mais chocante disso
tudo, a população brasileira, em especial à classe média, se mostra apática
diante de tal massacre do povo pobre, preto e favelado. Pelo visto, a
Intervenção Militar não será diferente. Os paladinos de Temer não hesitarão em
ferir inocentes para que a “ordem” burguesa seja restabelecida, já que a
proteção daqueles moradores está em enésima posição de importância. Será um
remake, remasterizado em Full HD do aclamado por muitos, Tropa de Elite.
Acontece que Temer, sua corja e a burguesia, assistirá ao massacre no conforto
de suas casas. Já os residentes das favelas cariocas farão de suas moradias as
trincheiras de mais uma guerra.
É estranhamente curioso que essa Intervenção
Militar se dê às portas das eleições presidenciais, quando um dos possíveis
candidatos é abertamente a favor da militarização como forma regulamentadora da
proteção da sociedade. O partidarismo da questão é o responsável por suplantar
mais uma vez os direitos daqueles que desconhecem esta premissa. Outrossim, não
se pode esperar bonanças dessas ações ao famigerado presidente Temer. Seria
pretencioso de mais da parte dele almejar algum louro da população, ao expô-la
à barbárie. Ele não seria tolo. O que está em jogo, além dos claros interesses
políticos, é o esvaziamento da linguagem, através de uma resposta amadora à
violência, para que a população se veja crente de que apenas a panaceia das Forças
Armadas apaziguará o longo caminho da criminalidade, sustentado em boa medida
pelo próprio governo, que agora se rebela contra sua obra. Aos mais
apocalípticos, é preciso dar a devida atenção: talvez o regresso dos horrores
da Ditadura Militar não seja uma obra da mera fantasia. Parece que o Brasil
está trilhando o mesmo caminho, mas, como de praxe, nessa cultura da
deseducação, da não leitura e da total irreflexão, até que o fatídico interesse
dos malfeitores ganhe forma, eles tentarão de todas as maneiras embaralhar a
linguagem até que não faça o menor sentido. Tudo para justificar as ações já
claramente injustificáveis.
A serviço de algo
maior, “Que tiro foi esse?” foi só a primeira de muitas distorções.