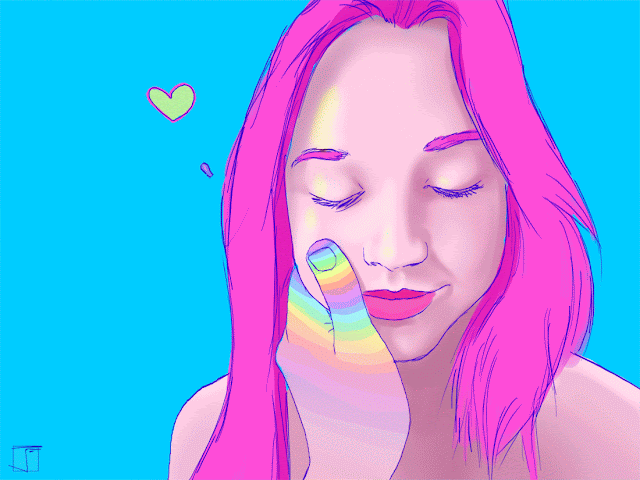Não precisa ser fã de
futebol para ser bombardeado pela cobertura massiva dada pelos veículos de
comunicação nacional. Quando não são estes, uma breve olhadela nas ruas mostra
a mudança clara na rotina dos brasileiros na tão esperada Copa do Mundo de Futebol.
Para fins de entretenimento, é plausível tamanha mudança comportamental, visto
que o Brasil tem longo histórico de vitórias nessa competição, além de ser
aclamado mundo a fora por seus feitos nessa área. Em 2018, porém, possivelmente
o país do futebol, dos craques multibilionários, dos torcedores apaixonados,
ficaremos conhecidos também como o país que exporta preconceitos já conhecidos
pela nação. Entoados com o mesmo orgulho quanto os versos que embalam o hino
nacional, tais violências não se restringem ao campo da fala, mas representam
toda uma cultura, que pode até perder a taça de campeã mundial, porém já está
consolidada no pódio entre as nações mais intolerantes do mundo.
O episódio com a
repórter russa deu o ponta pé inicial para a vexatória realidade vivida por
muitas mulheres no território brasileiro: a banalização do assédio. Esta que
surge do preconceito que se tem em torno da liberdade sexual feminina, ainda aprisionada
por conservadorismos do sexo dominante, o masculino, o qual dita regras
imutáveis sobre os comportamentos sexuais das mulheres. Fora de campo, elas são
privadas de sentir prazer, de falar acerca de, tão pouco militar abertamente
sobre essas lacunas sem serem hostilizadas por isso. Cientes dessas limitações,
o Brasil objetifica o seu corpo a belprazer, seja exportando o modelo apelativo
negra-seminua-globeleza como “símbolo nacional”, seja invadindo o espaço de
mulheres estrangeiras para reafirmar a ignorância tolerada aqui. Por essa
razão, homens brancos, cisgêneros e elitistas não viram problema em gravar um
vídeo assediando aquela jornalista em um país estrangeiro, já que em seu
território, os perfis sociais ocupados por eles lhes garantem plena liberdade
de abusar de mulheres, muitas vezes fora do âmbito da linguagem.
Antes de iniciar a
Copa, porém, é preciso lembrar que os campos futebolísticos são os cenários
preferidos pela sociedade para escancarar seus preconceitos ancestrais.
Embalados pela ânsia da vitória, torcedores não se intimidam em discriminar
outros torcedores, atletas e pessoas importantes no cenário nacional. Os casos
de racismo são um exemplo disso. De bananas jogadas no campo a piadas
grosseiras destinadas a jogadores negros, muitos foram os casos em que a cor de
pele foi usada como recurso discriminatório. Também entram na lista condutas
homofóbicas, como a vivida pelo jogador Richarlyson, talvez o único atleta
desse esporte de “machos alpha” a assumir publicamente sua homossexualidade. De
quebra, não poderia ficar de fora as ofensas de cunho machista voltadas a nossa
ex-presidenta Dilma Rousseff, ao longo do famigerado golpe do qual todos hoje
somos vítimas. Nos diversos jogos da seleção, brasileiros abastados, brancos e
autodenominados heterossexuais, faziam da arquibancada sua tribuna onde esses e
outros preconceitos eram repetidas vezes proferidos sem receberem as devidas
punições.
Em comum, essas ações
violentas destoam da atmosfera integradora que compõe a Copa do Mundo. O que se
espera de um mundial assim é respeito, aceitação, tolerância, palavras não
assimiladas por muitos brasileiros porque não foram, e ainda não são,
devidamente ensinadas. O que é repassado aqui é oposto disso, encorajando
muitos indivíduos a levar em suas bagagens os sentimentos mais odiosos para
além mar. Da mesma forma, é vergonhoso ver o nosso país, um dos mais
prestigiados no quesito futebol, ser o protagonista de episódios como aquele da
repórter russa e também de outros, como o vídeo viral do qual um outro
brasileiro pede para crianças russas falarem palavrões e frases de cunho sexual
direcionadas a Neymar. Percebemos, portanto, que os xingamentos até aqui tem a
finalidade de validar toda uma construção histórico-social voltada a
inferiorizar as minorias, uma conduta por si só incoerente, pois muitos dos
ídolos futebolísticos emergiram das realidades malogradas por esses torcedores.
Felizmente, a internet
não tem deixado impune as ações de muitos preconceituosos. Caso escapem das
punições legais, o povo trata rapidamente de sentenciá-los à condenação em meio
a atmosfera politicamente correta em que vivemos. Isso já é muita coisa, mostra
o quão inconiventes somos com posturas discriminatórias, pelo menos em tese.
Entretanto, a prática precisa ser reavaliada. O que vemos dentro ou fora dos
campos de futebol, dos terrenos de brejo aos estádios colossais da Copa do
Mundo, precisa ser revisto. Um país totalmente voltado a uma supervalorização
futebolística desalinhada dos ideais educacionais, tão caros à formação do
torcedor consciente, perde pontos preciosos na corrida rumo ao tão sonhado
hexa. Na verdade, somar taças de campeão mundial em meio as vergonhosas
demonstrações de desrespeito vividas nessa copa não deveriam ser motivo de
orgulho para nação, mas um ponto de inflexão a respeito daquilo que estamos
exportando para o mundo, além de ostentar títulos quando o país vive em um
verdadeiro atraso humanitário.
Perdemos também quando
não assumimos o quão preconceituosos somos. Independente da Copa do Mundo, o
Brasil foi construído a partir do alicerce da segregação e ainda hoje vive
sustentado por essa base. Então, quando o Ministro dos Esportes diz que os
rapazes que assediaram a russa “não nos representam” está incorrendo pela
dissimulação dos fatos. Somos sim preconceituosos, intolerantes,
desrespeitosos, para com os grupos minoritários e eventos mundiais esportivos
como a Copa, voltados a legitimar os grupos dominantes, só reforça essa ideia.
Assim, o torcedor, o qual deveria ir a campo munido de humanidade suficiente
para torcer pelo seu time sem recorrer aos preconceitos sociais como válvula de
escape, faz justamente o contrário porque essa foi a forma do qual ele foi
moldado. Dessa maneira, mal resolvido no campo das sexualidades e no respeito
às diferenças, a sociedade bate um bolão de idolatria verde-amarela nesse
período e mostra a inesgotável fonte distorcida de seu patriotismo à brasileira
eivado de ódio.
Para uma cultura
claramente elitista/machista/racista/homofóbica como a nossa, usar da linguagem
para depreciar o outro representa o tamanho do fosso criado por um processo
histórico-político-educacional voltado a legitimar condutas preconceituosas ao
invés de problematizá-las e, por fim, extirpá-las da sociedade. Abismo este que
se aprofunda no interior de cada brasileiro educacionalmente despreparado para
lidar com a diversidade. Então, o que deveria ser banido, passa a ser
corriqueiro, levando ao mundo uma face deplorável de um país visto como pacífico,
quando, em seu íntimo, é profundamente violento. Por isso, aqueles brasileiros
lamentavelmente nos representam, pois todos nós temos nossa parcela de culpa
nesses casos, por naturalizar aquele tipo de violência dentro ou fora de campo;
por não problematizar de fato as questões caras aos grupos minoritários; por
torcer a cara para suas lutas, reivindicações e dilemas; e, sobretudo, por não
somar forças em suas pautas políticas-sociais e legais. Então, conscientes ou
não, estamos exportando preconceitos, mas não tem importância.
O que vale é ser
hexa!